
Se aquilo que você procura existe
Um projeto único no mundo, nascido nas pegadas de Lejeune. Enquanto os financiamentos se concentram no diagnóstico pré-natal, o geneticista italiano Pierluigi Strippoli trabalha sobre a Síndrome de Down. Aqui, amplos trechos da entrevista à Passos março“Muita observação” é o essencial desejável de todo pesquisador. Mas ele sabe que não é óbvio saber olhar. Ao microscópio e a olho nu. E sabe também que as maiores surpresas na vida lhe chegaram assim. Também a custa de guinadas repentinas. Por isso, é a primeira coisa que ensina aos estudantes de Medicina que frequentam o seu curso sobre método científico. Na partida, leva todos a fixarem-se diante da frase do Prêmio Nobel Alexis Carrel: “Muita observação e pouco raciocínio conduzem à verdade; pouca observação e muito raciocínio conduzem ao erro”.
Pierluigi Strippoli é professor de Genética na Universidade de Bolonha e responsável do Laboratório de Genômica do Departamento de Medicina especializada, diagnóstica e experimental. Ele tem 53 anos e há quatro é chefe de um projeto de pesquisa único no mundo: estudar a função do cromossomo 21, responsável pela Síndrome de Down, quando presente em três pares, ao invés que nas duas normais, e descobrir a causa da deficiência intelectual que a acompanha. “Somos poucos os que ficamos a fazer pesquisa sobre a trissomia 21 pelo simples fato de que todo o interesse científico, e os financiamentos, estão concentrados no diagnóstico pré-natal que permite identificar, sempre com antecedência e sem riscos, o terceiro par do cromossomo 21”, conta Strippoli, cuja pesquisa está de pé hoje quase exclusivamente graças às doações.
“Entretanto, 1 criança em 400, e 1 em 700 nascidas vivas, tem a trissomia 21. Não se pode considerá-la uma condição rara. Aliás, de todas as anomalias genéticas é a de incidência mais alta”. No mundo, hoje as pessoas com Síndrome de Down são 6 milhões e têm uma expectativa de vida que supera os 62 anos, enquanto na décadas de Setenta era de 25 e no início do século XX de 9. “Isto devido a um melhoramento das condições de vida, mas sobretudo porque se tornou possível intervir sobre a patologia relacionada mais grave, que é a cardiopatia. Hoje, o que nos resta para resolver é o problema da deficiência intelectual, sobre a qual nós estamos indagando com resultados que continuam a nos surpreender”.
O esforço deles é titânico e ao mesmo tempo original. O mundo científico internacional, com efeito, vai todo para outra direção. Basta pensar na recente notícia da Islândia, primeiro país “Down free”. Ali a natalidade de crianças Down chegou a zero em razão dos testes pré-natal efetuados a partir de uma simples amostra de sangue da mãe, e da possibilidade de abortar, em caso de positividade, mesmo além das 16 semanas de gravidez. Diante deste conflito entre progresso e pesquisa, Strippoli repete as palavras de Jérôme Lejeune, o pediatra geneticista francês que descobriu em 1959 a anomalia do cromossomo 21 e curou mais de 9 mil crianças: “Quando a natureza condena, a tarefa da medicina não é executar a sentença, mas substituí-la”.
Depois de formado em Medicina, em 1990, o senhor se dedicou exclusivamente à pesquisa. Como chegou a interessar-se pela trissomia 21?
Aconteceu de maneira imprevisível. Em 2011 encontrei um amigo oncologista canadense, Mark Basik, a quem eu relatara acerca de meus estudos sobre o câncer do cólon, iniciados sob a orientação de Enzo Piccinini. Falei-lhe também de uma minha pesquisa sobre o cromossomo 21 que estava praticamente esvaziando-se. Não havia interesse nem fundos. Ele me disse que em Paris estava prestes a abrir-se um congresso sobre os avanços da pesquisa sobre a Síndrome de Down, no qual participaria uma amiga comum, Ombretta Salvucci, pesquisadora ítalo-americana, amiga da família Lejeune. Eu não tinha nenhuma intenção de participar, mas afinal, tocado pelo entusiasmo dele, peguei o avião e fui.
O que aconteceu?
Fiquei assombrado ao ver como os estudos de Lejeune eram ainda atuais e diziam coisas que mereciam ser verificadas. Isso impressiona se pensamos que as publicações de genética se tornam “ultrapassadas” em dois anos. Mas sobretudo entendi quão próximo ele estava de descobrir a maneira de resolver a deficiência intelectual na síndrome: a esse respeito ele tinha uma teoria que ninguém mais, após a sua morte em 1994, havia perseguido. Na última noite do congresso a mulher de Lejeune, a senhora Birthe, ofereceu um jantar em sua casa, durante o qual me perguntou de que eu me ocupava. Eu resmunguei qualquer coisa sobre cromossomo 21, e ela me disse: “Sim, mas se quiser estudar a trissomia, deve ver as crianças”. Então voltei a Bolonha e procurei o professor Guido Cocchi, que há trinta anos trabalha no acompanhamento de crianças com Síndrome de Down no Hospital Santa Úrsula. Falei-lhe da ideia de retomar em mãos a pesquisa de Lejeune e da necessidade de observar os seus pacientes. Assim, vesti de novo o jaleco e penetrei no “cortejo” do giro de visitas entre residentes e estudantes.
O que aprendeu?
Que a deficiência nas pessoas com trissomia 21 é menor do que se acredita. Há um enorme distanciamento entre compreensão e expressão. Eles estão plenamente conscientes, mas depois alguma coisa enguiça, como se houvesse um bloqueio orgânico, mais do que um déficit da personalidade. E isto me levou a dar ainda mais crédito à teoria de Lejeune, segundo a qual a Síndrome de Down é uma doença metabólica que provoca uma intoxicação crônica das células. Daí partimos para formular um novo projeto de pesquisa clínico-experimental sobre a trissomia 21. Em 2014, após a aprovação do Comitê Ético do hospital, a nossa pesquisa começou, frente ao ceticismo de muitos colegas.
Todos o acompanharam no seu laboratório?
Somente a doutora Lorenza Vitale, minha colega de estudos desde a Faculdade. Ela, depois de anos, me confidenciou: “Você voltou de Paris e não era mais o mesmo. Entendi que podia começar alguma coisa de grande”. Hoje mais quatro pessoas trabalham conosco; elas vão em frente, ano após ano, graças a bolsas de estudo. E ainda alguns doutorandos que se apaixonam e vêm dar uma mão. Em comparação com os padrões, somos um grupo exíguo.
Em que consiste a pesquisa? Sobre o que vocês trabalham?
Temos duas pistas. A primeira linha procura no terceiro par do cromossomo 21 os genes responsáveis da deficiência intelectual. Lejeune estava convicto de que, entre os 300 genes presentes, havia “muitos inocentes e poucos culpados”. Hoje, nós, graças aos cálculos que a bioinformática nos permite, queremos rastrear os genes que engatilham a síndrome. Em primeiro lugar, examinamos todos os estudos dos últimos 50 anos sobre crianças com trissomia parcial (isto é, que têm só uma parte do terceiro par do cromossomo 21) e vimos que alguns desenvolveram a síndrome e outros não, e quem tinha a síndrome possuía em comum o mesmo fragmento do cromossomo. Este simples raciocínio lógico significou poder identificar no interior do cromossomo a região “crítica”, ou seja onde estão os “culpados”. Nos dois anos seguintes, examinamos os casos de 125 crianças. Comparando seus dados, veio à tona um mapa que evidencia a existência de um único ponto, muito pequeno, comum a todas as crianças com a síndrome e que, ao contrário, nunca está presente nas crianças que não a têm. Esta foi a primeira meta que marcou um avanço objetivo, publicado no Human Molecular Genetics em 2016.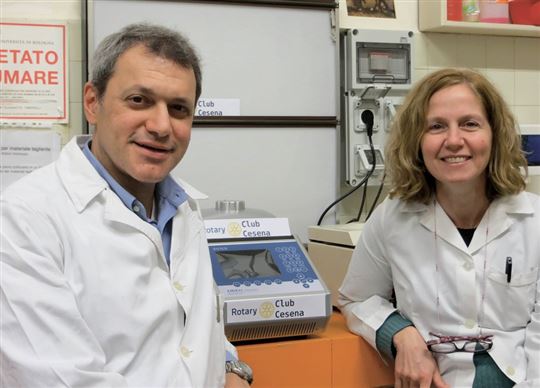
Lejeune percebia estar a um passo da solução quando dizia: “É um empreendimento intelectual menos difícil que enviar um homem para a Lua”. O que é a certeza para o senhor?
Lejeune dizia também: “Não posso permitir que vocês creiam saber que encontraremos, em um tempo bem definido, o tratamento. Ninguém conhece o comprimento do caminho a percorrer: sabemos só que as crianças estão aqui e que, se vinte anos serão necessários, deve-se começar logo”. A certeza está na hipótese positiva: se uma solução existe, e se a procuro, com certeza vou encontrá-la.
E como isso muda a maneira de pesquisar?
Esta hipótese me deu coragem para abrir o mais possível o campo de pesquisa, para utilizar métodos “abertos”, isto é, isentos de preconceitos, que me permitam olhar o mais possível a realidade que estudo. Com a bioinformática, por exemplo, podemos analisar milhões de dados, sem deixar nada fora. Um método mais circunscrito, porque ditado por ideias mais fortes, me levaria a olhar só por uma janela por mim determinada, impedindo a possibilidade de observações originais.
Quem financia a sua pesquisa?
De fato, as doações: em particular, uma fundação privada de Milão, alguns pais, a empresa Illumia e tantas pessoas que nos encontram. Em Dozza, perto de Ímola, uma cidade inteira organiza dois jantares por ano. Os comerciantes fornecem as matérias primas, os jovens servem à mesa e as mães preparam a massa para mais de 200 convidados. São muitas iniciativas deste tipo que permitem à nossa pesquisa continuar. Por isso, ao publicar os nossos artigos nas revistas científicas, nós inserimos nos agradecimentos tanto as mães que cozinham quanto os fundos da União Europeia. Aquelas são também ocasiões em que as famílias de crianças com trissomia nos conhecem e se conhecem entre elas. Já ocorreu também que mulheres grávidas de um filho com Síndrome de Down, encontrando a experiência de outras famílias, encontraram o apoio para ir ao encontro de uma grande provação.
Que significa ter um filho com Síndrome de Down?
Certa vez uma mãe me disse: “Se penso em todas as lágrimas dos primeiros meses... hoje não poderia fazer diferente. A nossa família com ele é mais unida, nos amamos mais. Ele nos fez descobrir o essencial da vida”. Isso porque nas pessoas com a síndrome há um aspecto compensatório pelo qual geram em torno de si um clima afetivo muito intenso. A tendência é dizer que são mais bondosos, mais afetuosos. Mas na realidade é algo mais sutil. Sabem puxar para fora o bem de cada um, porque são capazes de pedir para serem amados. Mas isto pode gerar um grande equívoco...
Como assim?
Como eu amo a criança, amo a sua doença. Acho que é uma postura escorregadia tanto quanto a oposta: “Como eu odeio a doença, elimino a criança”. Apesar desta extraordinária capacidade de serem felizes, há um momento no desenvolvimento delas em que percebem ser mais lentas, ter capacidades reduzidas e isso pode provocar muito sofrimento. Uma mãe me contou uma discussão com a filha devido à habilitação. A moça, aos 18 anos, queria dirigir o carro e a mãe, depois de mil explicações, exasperada, disse-lhe: “Enfim, sabe por que não pode, porque você tem um cromossomo a mais”. E a moça: “Então, não se pode tirar?”. Eles esperam algo de nós e nós temos o dever de cuidar deles, de dar-lhes condições de expressar toda a racionalidade que está presente neles.
Que significou para o senhor “muita observação”, quando, aos 47 anos, com uma carreira bem encaminhada, se envolveu em uma coisa completamente nova?
Eu tenho uma natureza sedentária, pouco inclinada para mudanças: amarro a bicicleta no mesmo poste na rua perto da universidade, há trinta e cinco anos. Não adoro viajar, não adoro os congressos. Desde quando me dediquei a esta nova pesquisa, tive de vencer todo tipo de resistência. A primeira entre todas, a de aceitar a responsabilidade de semelhante projeto. Mas os fatos se impuseram com uma força tal, que afinal não foi possível não render-se. A admiração pelos estudos e a humanidade de Lejeune, conhecer as crianças com a síndrome, ter o apoio de alguns colegas, encontrar com dificuldades, mas pontualmente, os financiamentos. E, sobretudo, a alegria: sentir que eu era mais eu mesmo indo atrás de tudo isso. O meu “sim” nasce olhando estes fatos totalmente imprevistos. São os momentos nos quais o que Deus faz prevalece sobre qualquer pensamento.