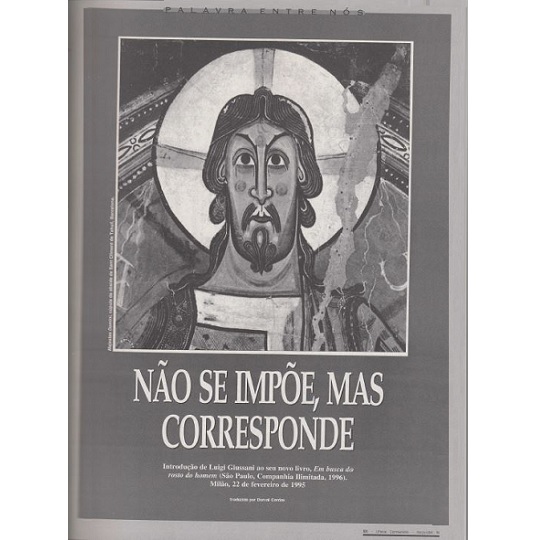
Não se impõe, mas corresponde
Palavra entre nósIntrodução de Luigi Giussani ao seu novo livro, “Em busca do rosto do homem” (São Paulo, Companhia Ilimitada, 1996). Milão, 22 de fevereiro de 1995
O supremo obstáculo ao nosso caminho humano é a “negligência” do eu. No contrário dessa “negligência”, isto é, no interesse pelo próprio eu, está o primeiro passo de um caminho realmente humano.
Poderia parecer óbvio que se tivesse este interesse, enquanto que na verdade não o é absolutamente: basta ver que grandes rasgos de vazio se abrem no tecido cotidiano da nossa consciência e que perda de memória. De fato, os fatores constitutivos do “sujeito” humano não são percebidos em abstrato, não são um “pré-juízo”, mas tornam-se evidentes no eu em ação, quando o sujeito está empenhado com a realidade.
Por detrás da palavra “eu” há hoje uma grande confusão, todavia a compreensão do que é o meu sujeito é o primeiro interesse. De fato, o meu sujeito está no centro, na raiz de qualquer ação minha (um pensamento também é uma ação). A ação é a dinâmica com a qual eu entro em relação com qualquer pessoa ou coisa. Quando se negligencia o próprio eu, é impossível que sejam minhas as relações com a vida, que a própria vida (o céu, a mulher, o amigo, a música) seja minha.
Para que possamos dizer meu com seriedade é preciso que sejamos límpidos na percepção da constituição do nosso próprio eu. Nada é tão fascinante quanto a descoberta das reais dimensões do próprio “eu”, nada é tão rico de surpresas como a descoberta do próprio rosto humano.
E nada é tão comovente quanto o fato de que Deus tenha-se feito homem para dar a ajuda definitiva, para acompanhar com discrição, com ternura e poder o caminho cheio de dificuldades de cada um em busca do seu próprio rosto humano. Não apenas na geração de todas as coisas e no domínio dos destinos e das circunstâncias Deus demonstra a sua paternidade, mas também, e especialmente, neste seu aproximar-se, companheiro imprevisto e imprevisível, do caminho com o qual cada um cresce no delineamento do próprio destino.
A primeira constatação no início de qualquer investigação séria acerca da constituição do próprio sujeito é que a confusão que hoje domina por detrás da frágil máscara (quase um flatus vocis) do nosso eu vem, em parte, de uma influência externa à nossa pessoa. É preciso ter bem presente a influência decisiva que tem sobre nós aquilo que o Evangelho chama “o mundo” e que se mostra como o inimigo do formar-se estável, cheio de dignidade e consistente de uma personalidade humana. Há uma pressão fortíssima por parte do mundo que nos circunda (através dos mass media, ou também da escola, da política) que influencia e acaba por impedir – como um pré-juízo – qualquer tentativa de tomada de consciência do próprio eu. Paradoxalmente, se pisam no nosso pé no metrô ou na escola, somos prontíssimos a reagir, a ficar cheios de raiva. Se, pelo contrário, acontece, como realmente acontece, que aquilo que venha a ser totalmente esmagado, literalmente suprimido ou tão intimidado a ponto de ficar como que apalermado seja a nossa personalidade, o nosso eu, isto nós agüentamos tranqüilamente todos os dias.
O resultado de tal opressão ou intimidação é evidente: já a própria palavra “eu” evoca para a esmagadora maioria um quê de confuso e flutuante, um termo que se usa por comodidade com simples valor indicativo (como “garrafa” ou “copo”). Mas por detrás da palavrinha não vibra mais nada que potente e claramente indique que tipo de concepção e de sentimento um homem tenha do valor do próprio eu.
Por isso, pode-se dizer que vivemos tempos em que uma civilização parece acabar: a evolução de uma civilização, de fato, é tal na medida em que é favorecido o vir à tona e o esclarecer-se do valor do eu individual. Estamos em uma era em que é favorecida, pelo contrário, uma grande confusão a respeito do conteúdo da palavra eu.
A conseqüência inevitável e literalmente trágica dessa confusão em que se “dissolve” a realidade do eu é a “dissolução” do termo tu.
O homem de hoje não sabe dizer “tu” conscientemente a ninguém. Nisto está a raiz última e aparentemente oculta da violência e da busca de poder que hoje determinam largamente as relações usuais entre as pessoas: elas, de fato, baseiam-se geralmente na sistemática redução do outro a um desígnio de posse e de uso, na ausência de qualquer estupor e comoção pela existência do outro.
A confusão que altera as feições do rosto humano é o ápice de uma crise que tem origens históricas e, poderíamos dizer, existenciais bem precisas. Tanto que, na experiência individual de um homem ocidental do nosso tempo, tal gerar-se de confusão revive segundo as mesmas passagens que se verificam na história: experiência individual e experiência histórica coincidem. Como delineamos em outra parte (cf. O senso de Deus e o homem moderno, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1997), houve uma época em que adquiriu espaço no homem a pretensão de ser medida, e portanto senhor, da realidade. Tratou-se de um humanismo em que a razão – que é o instrumento com o qual o homem se abre à realidade até o seu horizonte último de mistério – foi concebida não mais como abertura, mas como medida, como garantia última da própria existência do real, como prisão dentro da qual confinar a inesgotável natureza da realidade. O homem erigiu-se como medida de todas as coisas, conseguindo reduzir todas as coisas segundo a medida das suas capacidades e do seu poder sobre elas. Sobre as capacidades e sobre o bem-sucedido resultado das tentativas de poder, de domínio do real, pretendeu-se fundamentar a dignidade e o próprio valor do ser humano. Nesta mutação, a variedade dos fatores constituintes da personalidade humana e da convivência humana cessaram de tender para uma unidade. A figura do Santo, que indica a imagem exemplar da personalidade humana que vive uma experiência não fragmentada do próprio eu, do cosmos e da história, é substituída pelo homem como “divo”, tendente a impor o seu senhorio em um ou mais campos numa realidade entendida já de maneira fragmentária. Em tal fragmentação da experiência, Deus se tornou uma realidade inútil, na medida em que, ainda que professada, a relação com Deus é concebida como relação com uma abstração, como fator não decisivo na determinação do desenvolver-se concreto da existência. A própria presença de Deus começou a ser sentida como hostil à autoconsciência do indivíduo e à sua aventura terrena. Para esta passagem contribuiu uma multiplicidade de fatores – culturais, psicológicos e eclesiais – que examinamos em outro ocasião (cf. O senso de Deus e o homem moderno). De fato, a época que se seguiu à idade chamada medieval é toda tecida por esta pretensão do homem de deixar Deus de lado na determinação do próprio rosto e da própria relação com a realidade.
O esgotamento desta pretensão coincide com a sua extremização.
De fato, em todos estes séculos tornou-se evidente a incapacidade que o homem tem de reconhecer seu próprio rosto e de instaurar uma relação adequada – isto é, não marcada pela mentira, pela censura, ou por uma posse que deixa apenas ruínas – com a realidade em que vive. Eliminado Deus como ponto originante e como lei do real, a realidade tornou-se incompreensível, não clara, e, dentro dela, o fator que deveria ser o seu ponto de auto-consciência: o eu. De tal forma que, em tal confusão, a única energia que aparentemente permite a propensão natural dos homens a colocar-se juntos e a comunicar pareça ser aquela que o poder garante, na sua dupla flexão de moda homologante e de instrumentalização. O trágico sentimento deste desastre é testemunhado de maneira comovente e clara em todas as mais altas obras do engenho artístico e filosófico da nossa era: um testemunho em que convivem o sentimento trágico do viver e em que, por vezes, emerge a grande melancolia por um significado e por uma presença (por Deus) da qual se intui a existência, mas da qual se ignora o rosto e a morada. “Há um ponto de chegada, mas não há nenhum caminho”, disse Kafka, exprimindo com grave lucidez a estranha contradição: a razão, por sua natureza, dá-se conta da existência de um objetivo, da verdade, mas tudo parece obscurecido, toda ponte que o homem lança entre si e aquele objetivo está destinada a ruir – nenhum caminho. A sentença de Kafka condena todos ao desespero, mas, não admitindo possíveis iniciativas do “ponto de chegada” para conosco, realiza uma última deslealdade para com a razão. Agindo assim, de fato, retira o homem de qualquer tensão e expectativa diante do mistério da existência, lançando-o em uma grotesca “segurança irrazoável”; a razão, de fato, se estivesse livre, tentaria continuamente encontrar o “caminho”, deixando aberta qualquer possibilidade. A categoria da “possibilidade” é, de fato, a que melhor qualifica a dinâmica da razão, qualquer que seja o método que esta siga (cf. O senso de Deus e o homem moderno).
Na confusão acerca do rosto último do próprio “eu” e da realidade, amadurece hoje uma tentativa extrema de continuar esta fuga da relação com o infinito Mistério que no entanto todo homem razoável vê no horizonte e na raiz de qualquer experiência humana: é preciso negar qualquer consistência última ao viver. Se a realidade parece escapar ao pretendido senhorio do homem, o recurso extremo do orgulho é negar-lhe qualquer consistência, arbitrariamente considerar tudo como se fosse uma ilusão ou um jogo. Podemos chamar niilismo o que hoje reina na maneira de pensar e de olhar imposta pela cultura dominante. Mas trata-se de um niilismo que nem ao menos retém um sentimento trágico pelo desastre que o motiva, e até o dissimula em uma redução mentirosa de tudo a jogo, a arbitrário convite ao ceticismo e à leviandade moral.
O encontro com o acontecimento cristão é há dois mil anos o encontro com um fenômeno humano (um homem, uma companhia de pessoas) no qual a paixão pela descoberta do próprio rosto e a abertura à realidade tornam-se “estranhamente” despertos. Tal paixão é continuamente redespertada por algo que não é resultado de pensamentos ou de particulares filosofias.
Os dois primeiros que seguiram a Jesus às margens do rio Jordão são os primeiros protagonistas, depois de Maria, de uma misteriosa reconquista do humano: eles foram os primeiros protagonistas do encontro com Cristo, com uma presença excepcional na história. No Evangelho em que João fixa depois de tantos anos a sua lembrança daquele dia, o encontro com Jesus junto ao Jordão, o tê-lo seguido depois das “estranhas” palavras do Batista, que O indicava, a parada em sua casa depois que à pergunta deles Ele simplesmente respondera “vinde e vede”, são somente descritos. Todavia, como reconhece F. Mauriac em uma página da sua Vida de Jesus, aquele episódio continua a ser o ponto mais comovente do Evangelho. De fato, narra-se um encontro, preciso, histórico (é lembrada a hora desse encontro, as quatro da tarde!) e mesmo assim, na anotação que o discípulo dita no Evangelho, quase tudo é deixado implícito. Nós podemos muito bem imaginar este implícito, visto como em seguida tornou-se explícito e como foi mudada por ele a vida daqueles dois pescadores, mas já naquele primeiro encontro decisivo a humanidade e o coração deles terão sido tocados por um pressentimento, por uma inicial mas clara evidência: ninguém jamais lhes havia falado como aquele homem, jamais haviam encontrado alguém como Ele. Depois de tantos anos, quantas coisas a mais em relação àquele dia haviam visto e, ainda que confusamente, compreendido do que Ele naquele dia começara a dizer; no entanto, toda a excepcionalidade daquele encontro continuava intacta aos olhos do velho evangelista. O coração deles, naquele dia, havia-se deparado com uma presença que correspondia inesperada e evidentemente ao desejo de verdade, de beleza, de justiça que constituía a sua humanidade simples e não presunçosa. Desde então, mesmo traindo-o e entendendo-o mal mil vezes, não o teriam mais abandonado, tornando-se “seus”.
Desde cedo aquela Presença havia inserido na vida deles uma urgência de mudança, de realização da própria humanidade, tão poderosa que a história seria mudada pela ação deles e a santidade viria a entrar no mundo como inimaginada experiência de pureza e fecundidade humana. O acontecimento cristão, de fato, tem como inevitável conseqüência o inaugurar-se de um novo tipo de “moralidade”. Ela floresce não por obséquio a regras que, mesmo sutilmente, são ditadas em última análise (até na presumida moral individual) pela mentalidade comum e, portanto, pelo poder que mais fortemente a influência, mas sim graças ao reconhecimento de um encontro excepcional. É uma moralidade, uma mudança de juízo e de ação que acontece, segundo a dinâmica bem reconhecida por Romano Guardini: “Na experiência de um grande amor, tudo o que ocorre se torna um acontecimento no seu âmbito”. A presença de Cristo, de fato, e o ser seus amigos insere na vida uma capacidade de tender a olhar e a tratar as pessoas e as coisas tendo em conta todos os fatores em jogo: com um respeito e uma atenção aos particulares e ao destino. Neste sentido, a moralidade verdadeira consiste, como a verdadeira razão, em uma tendência para a abertura consciente a todos os fatores em jogo no real.
Em um momento em que o próprio termo “moralidade” tornou-se nebuloso, quando não até mesmo um termo instrumental e hipocritamente empregado na luta pelo poder, redescobrir em que consiste e como se forma uma autêntica tensão moral é tarefa tão urgente quanto apaixonante.
Um homem se disse Deus: teve início um fenômeno que pertence de modo particular à esfera da experiência religiosa, isto é, àquela série de perguntas e de tentativas com as quais o homem de todos os tempos busca conhecer o sentido do próprio viver e estabelecer um nexo entre a finitude da sua face e da sua existência e o infinito mistério do destino. Com Cristo, de fato, há uma reviravolta do método, isto é, do “caminho” ao longo do qual tinha-se desde sempre aventurado toda séria tentativa humana de relação com o Mistério, com o Deus que aparece no “mapa” do ser, análogo à “terra desconhecida” indicada nas margens dos mapas dos antigos navegadores. Não é mais o homem que busca instaurar um relacionamento com um Deus distante, empregando de maneira surpreendente e comovente toda a sua própria imaginação e a sua própria devoção; é Deus que se faz companheiro do homem da maneira mais concreta e discreta possível. A relação humana com aquele Jesus que caminha, come, comove-se e faz gestos de tal bondade e de tal poder que não se pode, observando-os, deixar de pensar em uma ação divina, para os primeiros doze e, pouco a pouco, ao longo de toda a história, até nós, revela-se o caminho com o qual entrar em relação com o Mistério que faz todas as coisas, o caminho ao longo do qual reconhecer o próprio destino de filhos e portanto o próprio rosto. Como escreveu João Paulo II na sua primeira e fundamental encíclica, Redemptor hominis: “O homem permanece para si próprio um ser incompreensível, e a sua vida é destituída de sentido unitário, se não encontra Jesus Cristo. Por isto, é Cristo Redentor que revela plenamente o homem ao próprio homem”. Jesus Cristo revela ser este caminho não porque se impõe como tal (e – teria podido – era Deus!), mas porque se comunica através da dinâmica mais adequada e respeitadora da consciência humana: ele, de fato (como delineamos em Na origem da pretensão cristã, São Paulo, Companhia Ilimitada, 1990), revela-se como uma presença que corresponde de modo excepcional aos desejos mais naturais do coração e da razão humanos. Ele mostra a própria excepcionalidade, porque é o homem diante do qual o coração humano adverte a correspondência para a qual é naturalmente feito, e que não experimenta nunca, nem mesmo diante das coisas mais envolventes e belas da sua existência – se não por outro motivo, ao menos por uma suspeita de brevidade que encobre uma tristeza última. Ninguém é como Ele, devem reconhecer os seus; para não acreditar nele – diz São Pedro, com a clareza de um ímpeto – teriam de não acreditar nos seus próprios olhos. Tal evidência excepcional não anula, antes exalta a liberdade humana: diante do “vem e segue-me” repetido sem distinções a pescadores, mafiosos, prostitutas, sábios e políticos, cada um é chamado a “revelar os pensamentos” do próprio coração, a decidir se irá aderir à verdade mais do que à sua própria idéia ou ao seu próprio interesse.
O cristianismo, portanto, apresenta-se desde o seu primeiro aparecimento no mundo como um acontecimento. Tal é o nascimento de um Menino em Belém; tal é, física e historicamente, a infância e a juventude de Jesus sob os olhos quem saberá como espantados e comovidos de Maria; tal é o encontro com João e André e todos os outros encontros que o comunicaram por todos os cantos da terra e até a nós.
A categoria de acontecimento é, de resto, a mais adequada ao conhecimento e à experiência humanos, quer se trate de conhecimento do eu, quer para qualquer tipo de conhecimento: é uma categoria capital, uma vez que só um acontecimento põe em ação ou pode modificar um sério processo de conhecimento. A continuidade desta excepcional presença no mundo e na história é dada pelo fluxo humano do qual Cristo é a “cabeça”: é o seu corpo, a Igreja. Ela é a “Estrangeira”, como a chama T. S. Eliot, isto é, uma realidade humana cuja consciência e cuja existência é determinada a partir de um fator que não pertence ao mundo e ao homem: a Igreja, de fato, como aprofundamos em outra ocasião (cf. Por que a Igreja, tomo II, O sinal eficaz do divino na história, São Paulo, Companhia Ilimitada, 1994), é aquele fenômeno histórico em que o divino se comunica através do humano, é o reacontecer do acontecimento de Cristo. Por isso, no pertencer à experiência da Igreja encontra apoio e ímpeto a forma de uma moralidade que queira dizer-se cristã.
“O verdadeiro drama da Igreja que gosta de se definir moderna”, disse João Paulo I, “é a tentativa de corrigir o estupor do evento de Cristo com regras”. Hoje, ao mesmo tempo em que ressoa dramaticamente a pergunta que se lê nos Coros de “A Rocha” de T. S. Eliot (“Foi a Igreja que abandonou a humanidade, ou foi a humanidade que abandonou a Igreja?”), o Espírito, que é a energia com que Deus age no mundo, não deixa de suscitar em homens e mulheres o mesmo e idêntico estupor de João e André diante do acontecimento cristão. Em lugares distantes, nas terras mais esquecidas, revive o acontecimento cristão – e também nos lugares de sempre, do trabalho e da família, com tanta freqüência tragicamente “desertos” de humanidade. Ainda, da mesma forma e talvez mais que na época do grande movimento beneditino, os cristãos comunicam ao mundo uma positividade de experiência, um ímpeto de caridade que serve a todo o povo. Isto acontece onde o cristianismo não é reduzido a “discurso”, a “Palavra” e ao conseqüente subjetivismo, mas existe como experiência de um acontecimento no presente. O que não existe como experiência presente não existe: ser contemporâneos a Cristo é a única condição para que tenha início realmente o conhecimento dEle como consistência de todas as coisas (Colossenses 1), como início de um povo novo (Gálatas 3), como critério com o qual enfrentar a totalidade da experiência (catolicidade) e como origem de posição cultural, de um ponto de vista que permite avaliar tudo e reter o que tem valor (1 Tessalonicenses 5).
De tal modo que, diante do acontecimento cristão – que é o mais extraordinário evento da história humana e que a investe toda de um valor que comove – a pergunta que surge e que mede a seriedade e a paixão com a qual cada homem olha para a própria vida é: de que se trata?
#ArquivoGiussani